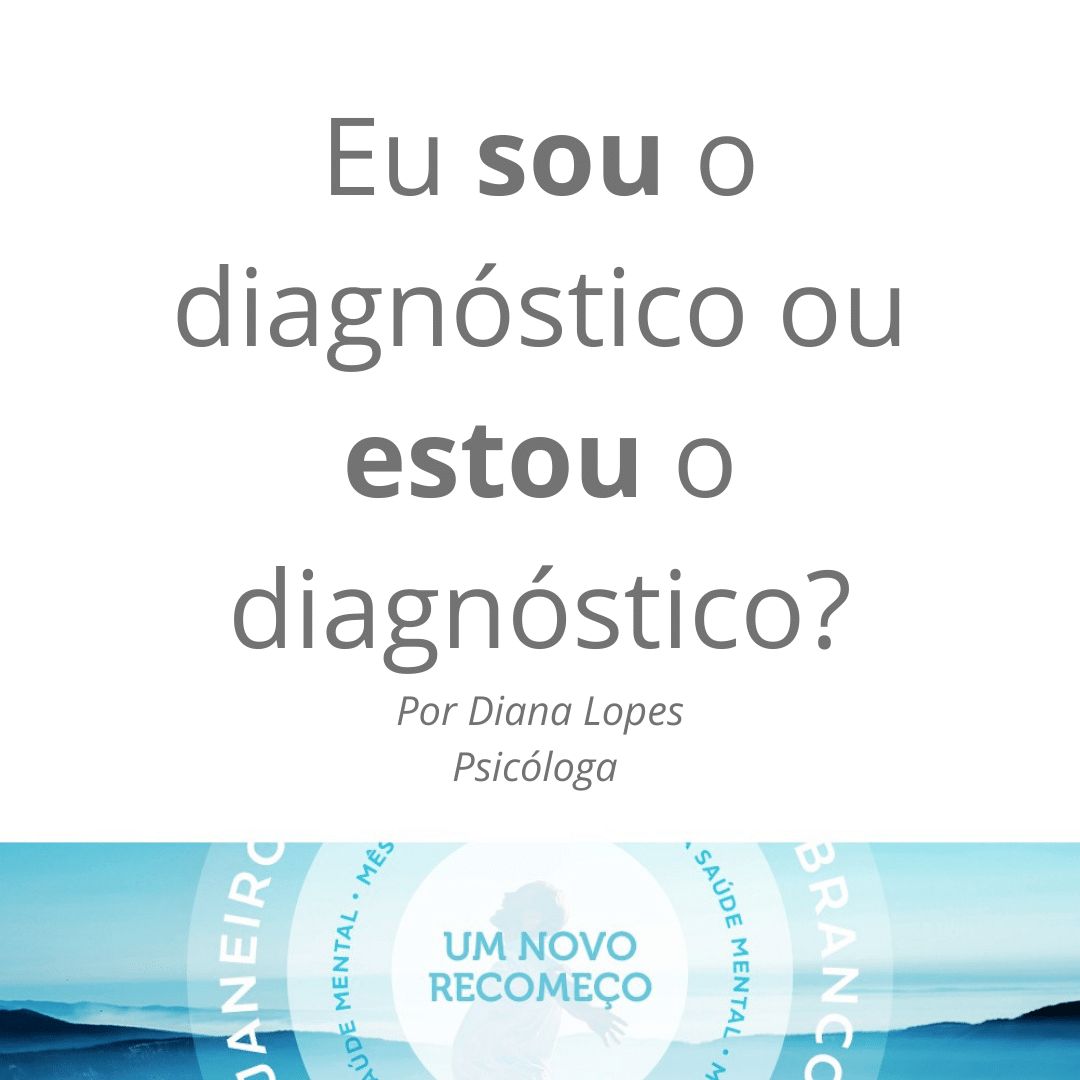* Por Diana Lopes
Eu sou o diagnóstico ou estou o diagnóstico?
Na verdade, nem um e nem outro. A experiência de ser e estar é muito mais ampla do que qualquer tipo de categorização.
Com o avanço da ciência médica e com os recursos diagnósticos cada vez mais precisos, a prática clínica ganhou suporte e opções de tratamentos mais eficazes e eficientes. E assim, o diagnóstico se tornou cada vez mais central no tratamento de diversas doenças.
E em saúde mental, qual será o lugar do diagnóstico?
Assistimos ao longo dos anos uma sociedade mais atenta aos enquadramentos psíquicos. Em uma busca rápida em sites para esta finalidade, facilmente encontramos testes e informações que verificam em quais categorias de transtorno as pessoas com determinadas características pertencem.
É um movimento controverso, uma vez que se por um lado o acesso à informação pode ser uma via de esclarecimento, reconhecimento e busca por um tratamento adequado, por outro lado pode decorrer em banalização diagnóstica tanto por parte das pessoas de um modo geral como por parte de profissionais.
Longe de querer esgotar neste texto um assunto que envolve um nível alto de complexidade, a intenção é chamar atenção para o que e para quem é importante o diagnóstico em Saúde Mental. Para isto devemos partir da concepção de que a condição humana é marcada por uma gama de aspectos que se traduzem na experiência de viver e no modo como nos relacionamos com o mundo. Isto nos leva a considerar que todos os modos de existir são legítimos porque são formas de viabilizar a própria existência. Por isso o diagnóstico não poderia ter este papel tão central e generalizado como podemos constatar nos últimos anos. O diagnóstico serve de referência para o profissional guiar sua conduta clínica, mas está longe de traduzir precisamente quem é uma pessoa.
E como consequência dessa ênfase no diagnóstico, podemos constatar com alguma frequência pessoas e profissionais buscando tratamentos para sentimentos comuns. Por exemplo, a tristeza, o sofrimento após um luto, uma separação tem levado pessoas a buscar medicamentos ou enquadramento em uma psicopatologia para a “cura” de eventos que fazem parte da dinâmica da vida. Ou quando um problema coletivo como a educação brasileira, por exemplo, é transformado em um problema pessoal, quando diagnosticamos uma criança em algum transtorno mental por apresentar um comportamento que foge ao esperado pela normativa.
Allen Frances, que dirigiu o DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico) durante anos, em entrevista ao “El País”, mostrou preocupação em relação a esta tendência de epidemia de diagnósticos. Para ele seres humanos são maleáveis e capazes de se adaptar em condições muito adversas. Ainda se fala pouco sobre esse assunto no Brasil que atinge o mundo inteiro. Aqueles que tentam abordar este tema podem ser desqualificados inclusive pela comunidade acadêmica mesmo sabendo que a ciência só se avança pelo questionamento.
Claro que estamos passando por um momento jamais antes vivido e com isto lidamos com sentimentos intensos da esfera mais íntima às experiências coletivas. Diante do desconhecido, da morte iminente, de ter nossa autonomia capturada pela pandemia, do isolamento social, da crise socioeconômica, de ficar longe de quem amamos e ter nossa vida completamente revirada, somos impactados significativamente em nossa experiência de ser e de estar. E reagimos naturalmente a isto. Mas será que tudo deve ser patologizado?
É neste momento que precisamos buscar entender o que acontece e de que modo isto nos impacta, e junto com profissionais sérios e qualificados buscar modos de superação. A busca frenética e cega por diagnósticos pode aprisionar uma existência sem resolver o problema realmente. Tanto pacientes quanto profissionais deveriam buscar a compreensão do modo como funcionamos, de como nos organizamos e estabelecemos relação com o mundo, o que pode ser a saída fundamental para a melhora e avanço na qualidade de vida, pois somos e podemos muito mais do que mostramos superficialmente .