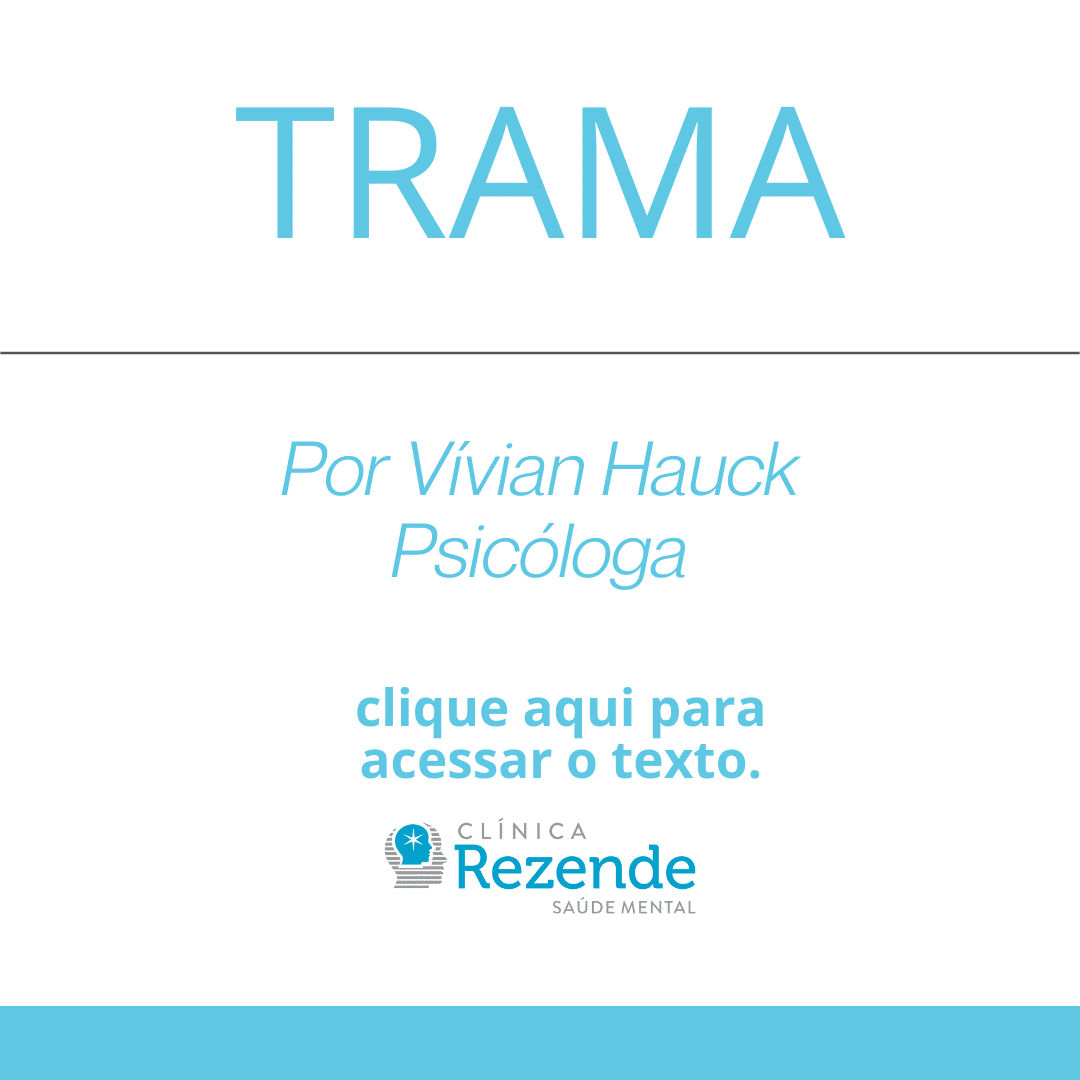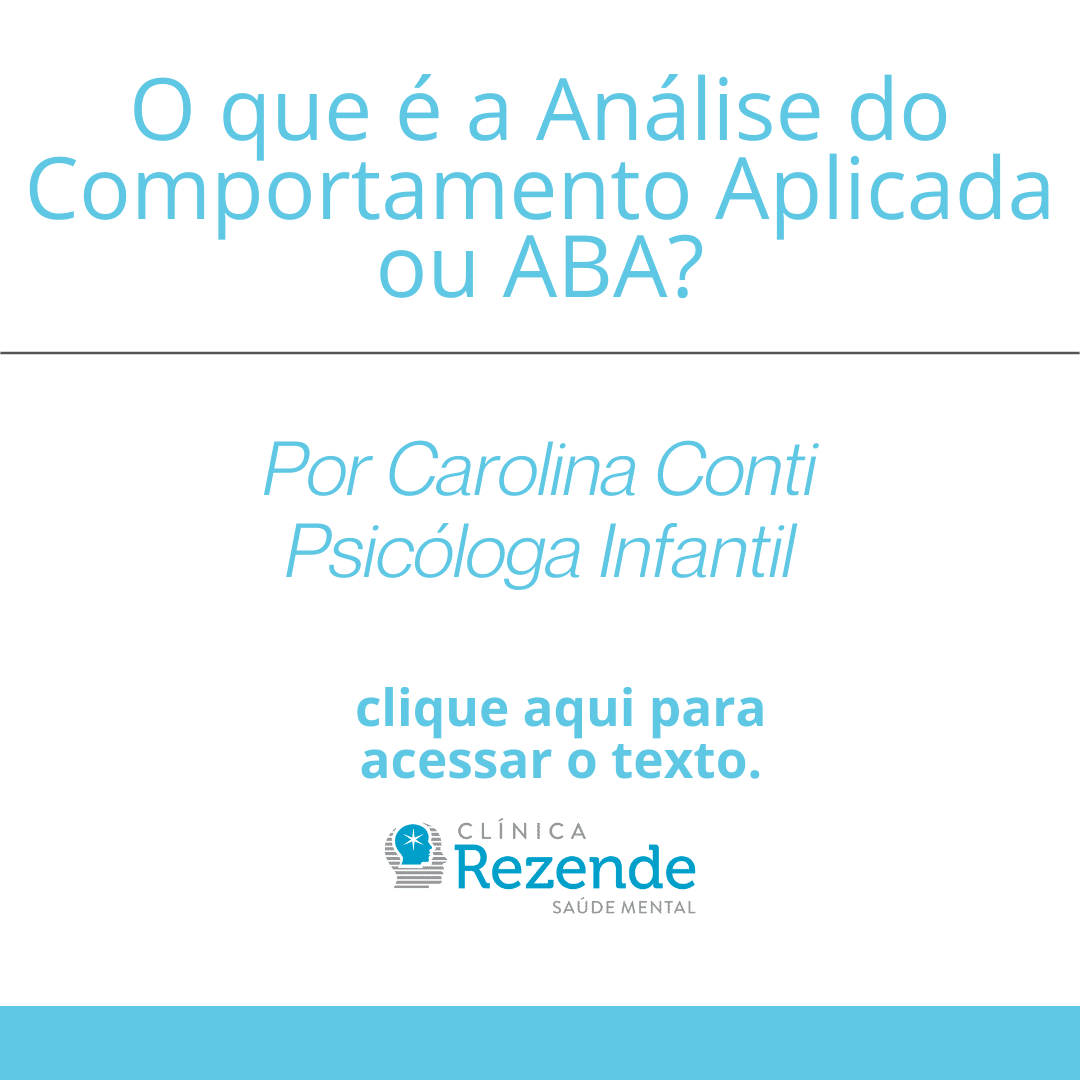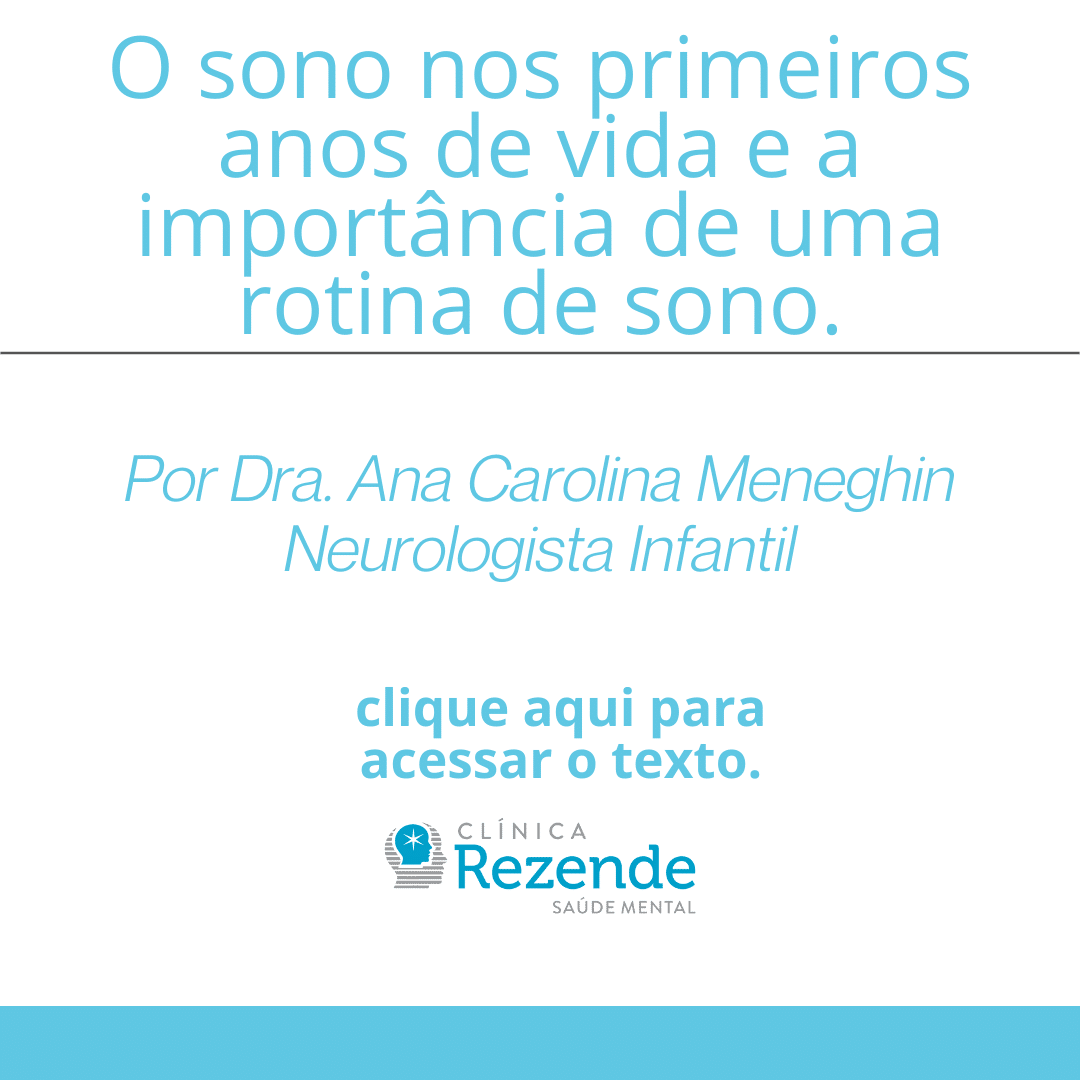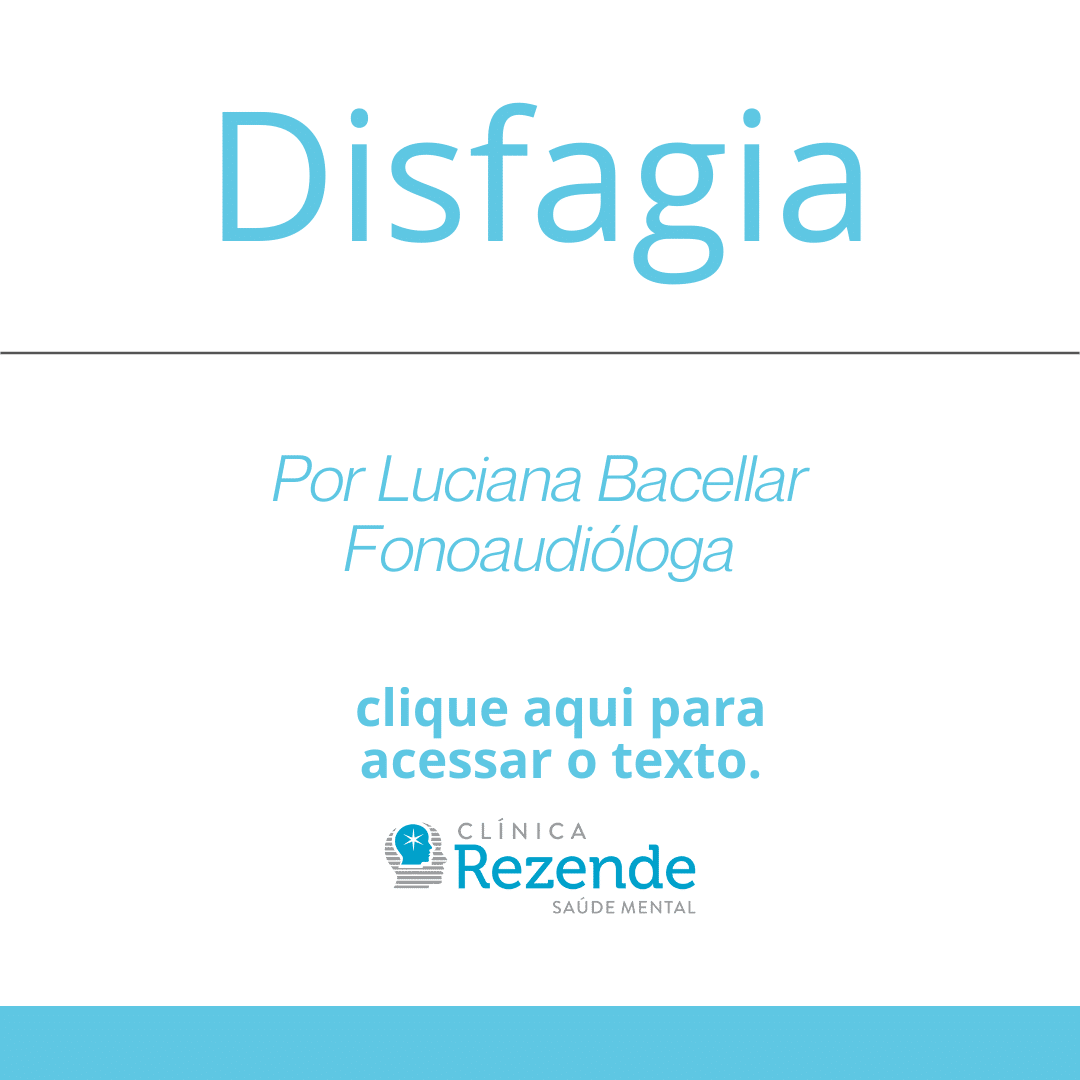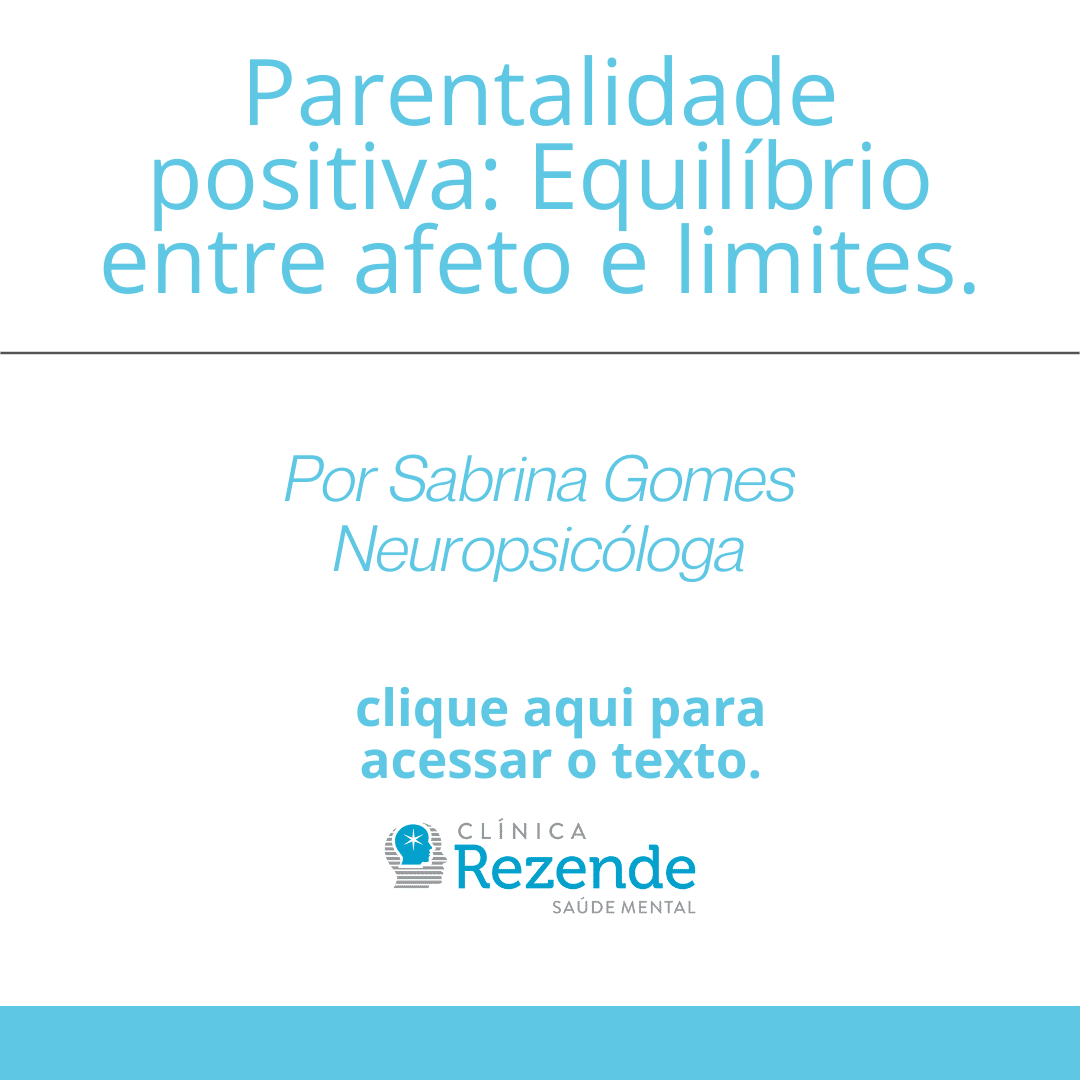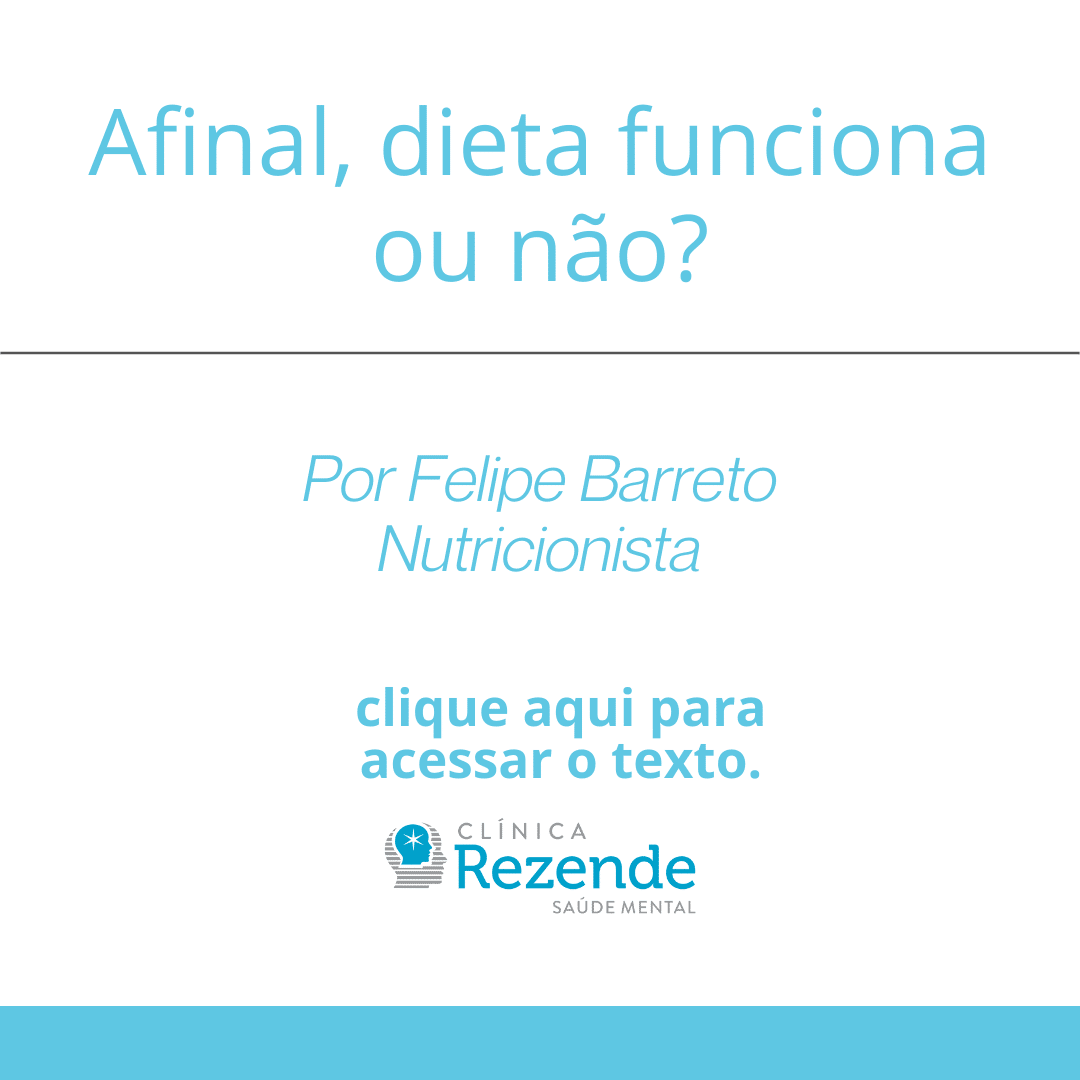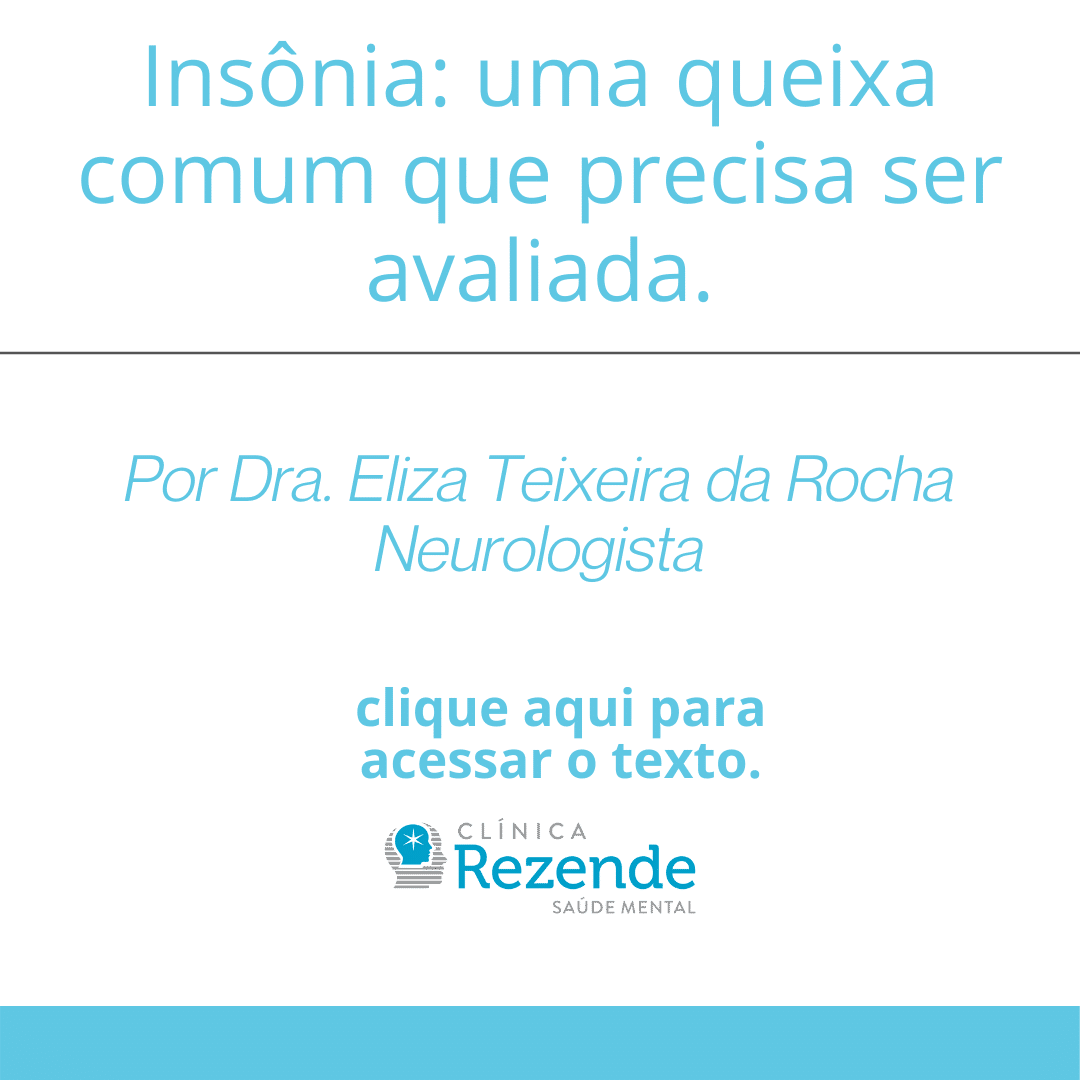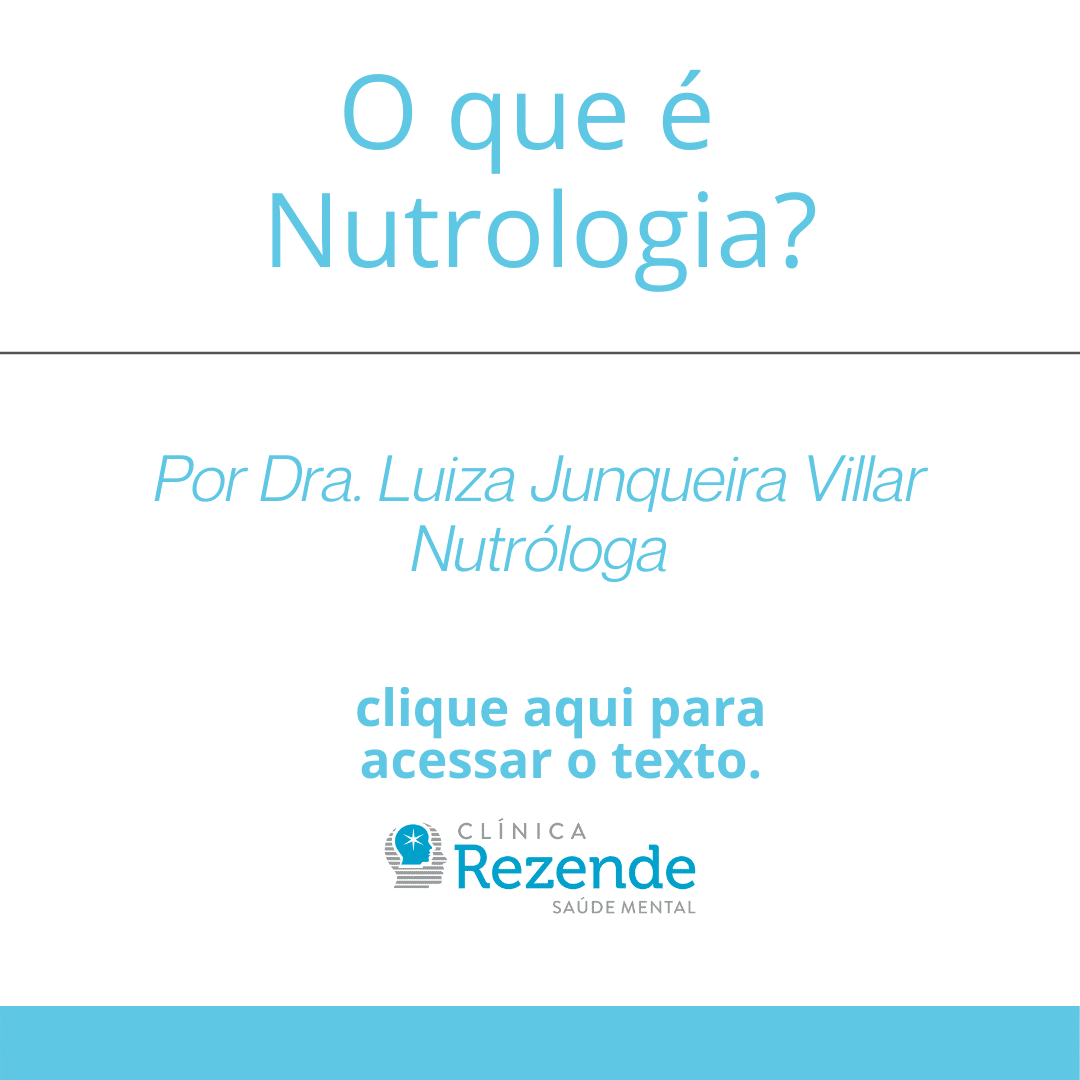* Por Dr. Alexandre de Rezende
O que é o Transtorno Obsessivo-Compulsivo – TOC?
A principal característica do TOC é a presença de obsessões (ideias) e/ou compulsões (rituais).
As obsessões são pensamentos, ideias ou imagens repetitivas, intrusivas e que provocam angústia, ansiedade e/ou desconforto. As compulsões são comportamentos evitativos ou rituais mentais, realizados de forma rígida e estereotipada, a fim de diminuir o desconforto causado pelas obsessões. Esses sintomas acabam por interferir na rotina da pessoa, restringindo várias áreas da sua vida. Os conteúdos mais comuns dos sintomas relacionam-se a sujeira/contaminação/limpeza, agressão, checagem e simetria/ordenação.
As obsessões podem aparecer de diversas formas, como frases, palavras, imagens ou cenas. Seus conteúdos geralmente são percebidos como impróprios ou estranhos, podendo gerar sentimentos de culpa, medo, desprazer, e até mesmo nojo. Por isso, a pessoa com TOC tenta reprimir, afastar ou controlar esses pensamentos, realizando rituais ou tentando não pensar neles, o que na maioria das vezes não é eficaz. Dessa forma, a pessoa acaba se sentindo ainda mais incomodada. Os pensamentos obsessivos podem ser de diferentes tipos: preocupações excessivas com sujeiras ou contaminações, alinhamento de objetos, ordem e simetria, pensamentos impróprios e indesejáveis relacionados com violência, sexo e religião, entre outros.
As compulsões são comportamentos realizados pelo indivíduo na tentativa de se livrar das obsessões e do desconforto provocado por elas. Esses comportamentos podem ser diversos, como verificar fechadura das portas, lavar as mãos com frequência, simetria e organização de objetos; perfeccionismo extremo nas atividades realizadas, ações repetidas (sentar e levantar do assento, entrar e sair dos lugares), entre outros. As compulsões ou rituais também podem aparecer como atos mentais, com a mesma finalidade de tentar neutralizar as obsessões. As mais comuns são repetir mentalmente determinadas palavras ou números, repetir silenciosamente alguma reza, rememorar fatos mentalmente.
-
Como os pensamentos influenciam no TOC?
Com base no principal fundamento da terapia cognitivo-comportamental, os pensamentos influenciam as emoções e comportamentos.
Uma das principais características dos indivíduos com TOC é a avaliação distorcida de seus próprios pensamentos obsessivos, baseada em algumas crenças: “sou capaz de controlar meus pensamentos”. As pessoas com TOC sofrem muito por acreditarem que seus pensamentos são antecipadores de uma ação, não encaram os pensamentos apenas como pensamentos, mas sim como possibilidade de acontecimentos reais (“se estou pensando isso, então é real”). Por isso, sentem a necessidade de controlar ou neutralizar esses pensamentos fazendo rituais, o que causa intenso desconforto e prejuízos no seu cotidiano. O efeito é temporário, e logo o pensamento perturbador volta a incomodar, a pessoa acaba repetindo suas ações de forma compulsiva.
Diversas situações do cotidiano (por exemplo, manusear o lixo do banheiro) podem disparar pensamentos indesejados e aversivos (“estou sujo e contaminado”) e sentimentos intensos (nojo e medo), e fazem com que o indivíduo tenha a necessidade de realizar comportamentos que neutralizem ou minimizem o desconforto: as compulsões ou rituais (lavar as mãos repetidas vezes). Como esses rituais provocam um alívio imediato e, portanto, cumprem o objetivo de diminuir o desconforto momentaneamente, eles acabam sendo reforçadores do problema.
-
Como o problema pode estar sendo mantido?
Pessoas com TOC desenvolvem regras e estratégias para monitorar, avaliar e tentar controlar seus pensamentos. Isso pode fazer com que nenhum pensamento ou situação aversiva passe despercebido, o que provoca sentimentos intensos de repugnância, nojo, culpa e medo. Esses sentimentos fazem com que o indivíduo procure uma válvula de escape: os rituais e/ou compulsões mentais.
Grande parte das pessoas têm, em algum momento da vida, pensamentos impróprios, agressivos, obscenos ou de conteúdo sexual muito semelhantes aos de quem sofre com o TOC. No entanto, não lhes dão importância, desvalorizando tais pensamentos. Logo, a maneira como se interpreta e o significado que se dá aos pensamentos seriam os responsáveis pela transformação de pensamentos que seriam apenas desagradáveis em pensamentos obsessivos e recorrentes. Com base nisso, é importante tentar perceber o quanto se está supervalorizando os pensamentos, fazendo-os mais intensos e presentes na vida.
Outro aspecto que pode estar contribuindo para manter os sintomas de TOC é a realização compulsiva de rituais. Como já dito anteriormente, quando se age na tentativa de neutralizar as ideias obsessivas, isso tende a causar um alívio momentâneo. Porém, esse alívio acaba reforçando a realização dos rituais, por julgar que fazer os rituais é o melhor caminho para aliviar os pensamentos.
-
Como lidar com o TOC?
Estratégias para lidar com o TOC:
- Psicoeducação: conhecer todas as informações necessárias referentes ao TOC, características e funcionamento, o modelo cognitivo-comportamental e as técnicas utilizadas no tratamento para se lidar de maneira eficaz na redução dos sintomas.
- Lista de sintomas: junto com o terapeuta, faz-se uma lista com todos os sintomas obsessivo-compulsivos, registrando-os através do critério de nível de ansiedade.
- Identificação e modificação de interpretações distorcidas: é importante identificar e aprender a modificar os pensamentos distorcidos junto com o terapeuta, com o objetivo de começar a fazer interpretações mais realistas. Exemplos: exagerar o risco de algo ruim acontecer, superestimar sua responsabilidade sobre os pensamentos, supervalorizar o poder do pensamento e a necessidade de controlá-lo e perfeccionismo.
- Exposições às obsessões e prevenção de rituais: partindo do princípio de que os rituais e evitações são estratégias utilizadas pela pessoa para aliviar as obsessões, o objetivo é fazer com que a pessoa se exponha aos estímulos que parecem aversivos de uma maneira gradual, sem o recurso de rituais ou comportamentos que possam trazer algum alívio. O objetivo é que ocorra a diminuição espontânea e progressiva de ansiedade e medo a um estímulo não nocivo (sujeira, elevador, janelas).
Sugestão de leitura:
- Vencendo o transtorno obsessivo-compulsivo: Manual de terapia cognitivo-comportamental para pacientes e terapeutas. Autores: Aristides Volpato Cordioli, Analise de Souza Vivan e Daniela Tusi Braga. 3ª edição. Artmet, 2016.
- Medos, dúvidas e manias: orientações para pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo e seus familiares. Autores: Albina Rodrigues Torres, Roseli Gedanke Shavitt e Eurípedes Constantino Miguel (organizadores). 2ª edição. Artmed, 2013.
Referência bibliográfica:
Este texto foi baseado na seguinte referência:
LAURITO, L.D.; PAIXÃO, J.E. Capítulo 4 – Transtorno Obsessivo-Compulsivo. In: CARVALHO, M.R.; MALAGRIS, L.E.N.; RANGÉ, B.P. Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental. – Novo Hamburgo: Sinopsys, 2019.